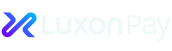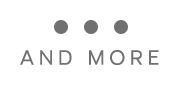Bed Stuy

Como Me Apaixonei por Bed Stuy: Uma Brasileira Perdida no Brooklyn
Nunca vou esquecer minha primeira vez em Bed Stuy. Era uma terça-feira ensolarada de setembro, e eu estava completamente perdida. O Google Maps do meu celular tinha decidido parar de funcionar justamente quando saí da estação Utica Avenue, e lá estava eu, uma brasileira de São Paulo carregando uma mala gigante, no meio de um bairro do Brooklyn que nem aparecia nos guias turísticos que tinha estudado obsessivamente durante o voo. “Bedford-Stuyvesant”, ou Bed Stuy como descobri que os locais chamam, não era parte do meu roteiro planejado, mas acabou se tornando o lugar que mais me marcou em Nova York.
Foi a Dona Martha, uma senhora de uns 70 anos sentada na escada da frente de um brownstone (aquelas casas de pedra marrom típicas de NY), quem me salvou. “Honey, você parece perdida. Posso ajudar?”, ela perguntou com um sorriso que imediatamente me fez sentir menos ansiosa. O Airbnb que tinha reservado ficava a apenas duas quadras dali, e Dona Martha não só me deu direções como insistiu que seu neto, Jayden, me acompanhasse até lá. “Este bairro tem história demais pra você descobrir sozinha, menina!”, ela disse, e não poderia estar mais certa.
O Browstone Que Me Ensinou Sobre Resistência
O apartamento que aluguei ficava no segundo andar de um desses brownstones históricos na MacDonough Street. Meu anfitrião, Terrell, era um professor de história aposentado que morava no mesmo prédio há 45 anos. Na primeira noite, enquanto tomávamos chá na sua varanda cheia de plantas (como ele ficou empolgado quando mencionei que sou brasileira e reconheci as mudas de ipê amarelo que ele tentava fazer crescer em vasos!), Terrell me contou como Bed Stuy não era apenas um bairro, mas um símbolo de resistência e orgulho para a comunidade afro-americana.
“Nos anos 60, quando a segregação ainda estava fresca na memória de todos nós, este bairro se tornou um refúgio”, explicou ele, apontando para a casa do outro lado da rua. “Ali morou uma das primeiras famílias negras a possuir propriedade em Nova York. Eles enfrentaram ameaças, discriminação, tentativas de expulsão… mas se recusaram a sair.” Percebi que cada fachada, cada porta, cada janela de Bed Stuy tinha uma história de luta que se parecia, de formas surpreendentes, com as histórias de resistência que cresci ouvindo no Brasil.
A Noite em que o Jazz Mudou Minha Viagem
Na minha terceira noite em Bed Stuy, Terrell insistiu que eu o acompanhasse até um pequeno porão na Lewis Avenue. “É quinta-feira, noite de jam session”, ele disse como se isso explicasse tudo. Desci relutante – afinal, meu plano era acordar cedo para enfrentar as filas da Estátua da Liberdade no dia seguinte. Mal sabia que aquela noite mudaria completamente meu roteiro de viagem.
O porão se chamava “Sankofa”, um nome que Terrell explicou vir de uma palavra africana que significa “voltar e buscar o que ficou para trás”. Era um espaço minúsculo, mal cabiam 30 pessoas, com paredes cobertas de fotos em preto e branco de lendas do jazz. No pequeno palco improvisado, um quarteto tocava o que depois descobri ser “hard bop”, um estilo de jazz com influências de soul e rhythm and blues.
Sentei num sofá desgastado ao lado de uma senhora que se apresentou como LaTonya, nascida e criada em Bed Stuy. “Meu avô tocava saxofone com Sonny Rollins bem neste porão”, ela me contou, enquanto me passava um copo de algo que chamou de “punch secreto da casa”. Quando mencionei que era brasileira, seus olhos brilharam. “Brasileira? Então você entende de música boa! Tem muito samba no que eles estão tocando, sabia? Esse ritmo que te faz balançar mesmo sem querer.”
Ela não estava errada. A mistura do jazz com ritmos que, de alguma forma, me lembravam o samba do Rio (cidade que visitei apenas uma vez, ironicamente) me fez cancelar minha ida à Estátua da Liberdade no dia seguinte. E nos três dias seguintes também. Bed Stuy tinha me capturado.
O Dia em que Descobri que Gentrificação Tem Sotaque Brasileiro
Numa manhã de sábado, saí para explorar o bairro e encontrar um café. Seguindo a recomendação de Terrell, entrei no “Kava Shteeble”, um café na Tompkins Avenue. Foi quando ouvi algo que não esperava: português sendo falado na mesa ao lado. Não aguentei e me intrometi (com aquela falta de cerimônia tipicamente brasileira).
“Vocês são do Brasil?”, perguntei, provavelmente com um sorriso grande demais para estranhos em Nova York. Eram três jovens arquitetos de Belo Horizonte que estavam em um intercâmbio de seis meses estudando – surpresa – o processo de gentrificação em Bed Stuy.
“É fascinante e assustador ao mesmo tempo”, explicou Fernanda, enquanto mordia um croissant que custava quase 8 dólares. “Estamos vendo em tempo real o mesmo processo que aconteceu em áreas como Pinheiros em São Paulo ou Botafogo no Rio. Primeiro vêm os artistas porque o aluguel é barato, depois os cafés hipsters, depois os preços sobem e as famílias que construíram o bairro não conseguem mais morar aqui.”
Carlos, outro do grupo, apontou pela janela para uma fileira de brownstones restaurados. “Aquela casa ali foi comprada por 1,2 milhão de dólares mês passado. Há dez anos, valia menos de 300 mil. Estamos estudando como preservar a essência cultural de um lugar enquanto ele inevitavelmente muda.” Essa conversa me fez olhar para Bed Stuy com outros olhos – não apenas como uma turista encantada com a “autenticidade local”, mas como alguém que estava, de certa forma, participando dessa transformação.
O Mural que Conectou Dois Mundos
Caminhando pela Fulton Street num fim de tarde, parei hipnotizada diante de um mural enorme que cobria a lateral inteira de um prédio. Mostrava uma mulher negra de turbante colorido, com traços que lembravam tanto as baianas do Brasil quanto as mulheres que via diariamente em Bed Stuy. Enquanto tirava fotos, um homem se aproximou.
“Gostou da minha tia Zora?”, perguntou, com um sorriso orgulhoso. Era Malik, sobrinho da mulher retratada e o artista responsável pelo mural. Quando mencionei que era brasileira, seus olhos brilharam. “Minha tia Zora visitou Salvador nos anos 70! Ela sempre dizia que foi lá que finalmente entendeu suas raízes.” Malik me contou como sua tia, uma ativista comunitária em Bed Stuy, voltou transformada do Brasil e passou a incorporar elementos da cultura afro-brasileira em seu trabalho social no bairro.
“Tem um motivo para tantos brasileiros se sentirem em casa aqui”, ele explicou. “Essa conexão diaspórica, sabe? As histórias se espelham.” Acabei passando três horas com Malik, que me levou para conhecer outros murais do bairro, cada um contando uma história de resistência que, de formas surpreendentes, ecoava histórias que conhecia do Brasil.
Da Loja da Dona Elza à Festa com DJ D-Nice
Na minha última semana em Bed Stuy, já tinha estabelecido uma rotina quase de moradora. Toda manhã comprava pão na pequena padaria da Dona Elza, uma senhora caribenha que nunca acreditou quando falei que era brasileira (“Você é muito branca para ser brasileira, querida! Brasileiros são como Pelé!”). Depois passava no “Tompkins Deli” para o café absurdamente forte que, de alguma forma, me lembrava o café da minha avó em Minas, apesar de não ter nada a ver.
Numa sexta-feira, o filho da Dona Elza, Kevin, me convidou para o que chamou de “uma festinha na casa de um amigo”. A “festinha” era, na verdade, uma festa no quintal de uma casa na Decatur Street, com nada menos que o famoso DJ D-Nice (que eu, confesso, não conhecia até então) tocando para umas 50 pessoas. O quintal estava decorado com luzes coloridas penduradas entre as árvores, e uma mulher vendia comida caseira de uma pequena barraca improvisada.
Entre goles de um ponche potente demais e mordidas no melhor frango frito que já comi, conversei com pessoas tão diversas que parecia um pequeno simulacro das Nações Unidas. Havia um grupo de jamaicanos discutindo apaixonadamente sobre política brasileira (mais informados que muitos brasileiros que conheço!), um casal de franceses que se mudou para Bed Stuy porque “Paris está muito mainstream”, e um senhor que jurava ter ensinado Spike Lee a andar de bicicleta “bem nesta rua, nos anos 60”.
Foi ali, dançando desajeitadamente entre estranhos que me tratavam como velhos amigos, que entendi por que Bed Stuy tinha me capturado tão completamente. Não era apenas a história rica ou a arquitetura impressionante – era essa sensação de comunidade que, de alguma forma, me lembrava os almoços de domingo da minha infância no Brasil, onde vizinhos entravam sem bater e ninguém era realmente estranho.
O Que Você Precisa Saber Antes de Se Perder em Bed Stuy
Se você é brasileiro e está planejando visitar Nova York, deixe-me convencê-lo a reservar pelo menos um dia para se perder em Bed Stuy. Esqueça (só por um dia, prometo) a Times Square e a Estátua da Liberdade. Pegue a linha A do metrô e desça em Utica Avenue ou Nostrand Avenue. O resto é história – sua história com este bairro incrível.
Como Chegar Sem se Perder (Como Eu)
A maneira mais fácil de chegar a Bed Stuy é pelo metrô – as linhas A e C param em várias estações do bairro. Pessoalmente, recomendo descer em Utica Avenue se você quer explorar a parte mais “autêntica” (palavra que uso com cautela depois das conversas sobre gentrificação) ou em Nostrand Avenue se quiser começar pela área mais movimentada. Da Times Square, a viagem leva cerca de 30-40 minutos, dependendo da hora do dia e do humor imprevisível do metrô novaiorquino.
Uma dica que aprendi com Terrell: baixe o mapa do metrô offline no seu celular! O sinal pode ser instável nas estações subterrâneas, e nada pior que ficar perdido quando os trens expressos e locais começam a ficar confusos (acredite, eles ficam!).
Onde Comer Como um Bed Stuy Nativo (Segundo Minhas Novas Amizades)
Se tem uma coisa que Bed Stuy faz bem, é comida. Esqueça os restaurantes caros de Manhattan – aqui você encontra alguns dos sabores mais autênticos de Nova York:
- Peaches Hot House – Onde comi o frango frito mais picante e delicioso da minha vida. A LaTonya me levou lá e insistiu que eu pedisse no nível “hot”. Meu conselho: vá no “medium” a menos que você tenha um estômago de aço.
- Saraghina – Uma pizzaria em uma antiga farmácia reformada. O proprietário, Edoardo, é italiano e ficou fascinado quando mencionei que morei seis meses em Nápoles. Ele me serviu uma pizza que não estava no cardápio e jurou que era “o segredo mais bem guardado de Brooklyn”.
- Tompkins Deli – Não é um restaurante, mas um deli que serve sanduíches enormes. O “BedStuy Bomber” (rosbife, cebola caramelizada, queijo derretido e um molho secreto) foi meu café da manhã mais de uma vez – geralmente após as noites de jazz que terminavam tarde demais.
Onde Encontrar a Música que Mudou Meus Planos
Se você, como eu, se emociona com boa música ao vivo, não deixe Bed Stuy sem visitar:
- Sankofa – O porão de jazz que mencionei. Não tem site oficial nem aparece no Google Maps. Pergunte a qualquer morador na Lewis Avenue perto da Decatur Street. As jam sessions são às quintas, a partir das 21h. Leve dinheiro em espécie para a “contribuição sugerida” de 10 dólares.
- Bed-Vyne Brew – Um bar aconchegante com música ao vivo nos fins de semana. Foi lá que ouvi uma banda de jovens músicos locais fazendo covers de Jorge Ben Jor – aparentemente, música brasileira é super respeitada entre os músicos de Bed Stuy!
Perguntas que Você Provavelmente Tem (E Que Eu Também Tinha)
1. Bed Stuy é seguro para turistas brasileiros?
Esta foi minha primeira preocupação, especialmente porque tantos guias turísticos ainda tratam Bed Stuy com um tom de alerta. Minha experiência: me senti completamente segura durante todo o tempo que passei lá. Como em qualquer outro lugar em Nova York (ou no Brasil), é importante estar atento ao seu entorno, especialmente à noite, mas o bairro tem uma forte presença comunitária e as ruas principais são movimentadas até tarde.
Como Terrell me disse no primeiro dia: “Este bairro protege quem o respeita”. Tive a sensação de que, quanto mais eu interagia genuinamente com os moradores locais, mais eu fazia parte de uma rede informal de proteção mútua – algo que raramente senti nas áreas mais turísticas de Manhattan.
2. Existem outros brasileiros em Bed Stuy?
Para minha surpresa, encontrei vários! Além dos arquitetos que mencionei, conheci um casal de São Paulo que abriu uma pequena loja de produtos naturais na Tompkins Avenue, um DJ de Recife que se apresenta regularmente em bares locais, e até mesmo um grupo de estudantes de intercâmbio da USP que estavam hospedados com uma família em Bed Stuy.
O mais interessante foi descobrir o Jubilê, um pequeno café administrado por Maria, uma mineira que se casou com um músico de jazz de Bed Stuy nos anos 90. Ela serve pão de queijo e cafezinho em xícaras minúsculas para a confusão da clientela local, que ainda assim volta diariamente para, nas palavras de um frequentador regular, “aquela coisa pequena de queijo que é melhor que qualquer donuts desta cidade”.
3. A gentrificação está mesmo mudando Bed Stuy?
Sim, e é impossível não notar. Em uma mesma rua, vi uma loja de produtos orgânicos onde um pacotinho de granola custava 15 dólares ao lado de um mercadinho que existia há 40 anos vendendo produtos a preços acessíveis para a comunidade local. Ouvi histórias de famílias que moravam há gerações no bairro sendo forçadas a se mudar porque não podiam mais pagar os aluguéis que dispararam.
Ao mesmo tempo, muitos dos novos negócios são abertos por pessoas com conexões profundas com o bairro e sua história. Como me explicou Malik, o muralista: “Sempre vai haver mudança. A questão é: quem controla essa mudança e quem se beneficia dela? Essa é a batalha que estamos travando aqui – não contra o novo, mas por nosso lugar nele.”
Saí de Bed Stuy depois de duas semanas – muito mais tempo do que planejei originalmente – com meu roteiro turístico completamente revirado e uma nova compreensão não apenas de Nova York, mas do Brasil também. As conexões históricas, culturais e humanas que encontrei naquelas ruas de brownstones me mostraram uma Nova York que nenhum guia turístico tinha me preparado para conhecer. E como disse Dona Martha quando me despedi: “Agora você tem família aqui, menina. Bed Stuy não é só um lugar no mapa – é um lugar dentro da gente.” Não poderia concordar mais.